Por Jorge Santana (*)
Sou um empresário com 64 anos de idade, e desde a adolescência carrego comigo a imagem de Ernesto Che Guevara. Alguns estranham — como se a admiração por Che fosse incompatível com a idade, com a experiência, ou com o lugar que ocupo no mundo. Nunca foi.
Para além do seu papel na necessária revolução cubana, o que sempre me moveu foi sua causa mais profunda: o combate valente, inegociável, a toda forma de dominação e exploração. Em especial, ao colonialismo e ao imperialismo perversos que, sob novas roupagens, continuam a submeter a maioria aos interesses e caprichos das elites do capital.
Che foi, acima de tudo, um homem que não aceitou a naturalização da injustiça. E isso, em qualquer tempo histórico, é um gesto raro.
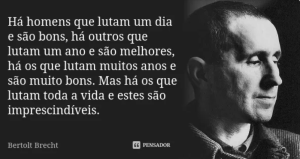 Lembro-me de Brecht e de sua conhecida distinção: “há homens que lutam um dia e são bons; há outros que lutam um ano e são melhores; há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis”. Che pertence a essa última categoria. Não porque venceu sempre, mas porque nunca recuou diante daquilo que considerava essencial.
Lembro-me de Brecht e de sua conhecida distinção: “há homens que lutam um dia e são bons; há outros que lutam um ano e são melhores; há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis”. Che pertence a essa última categoria. Não porque venceu sempre, mas porque nunca recuou diante daquilo que considerava essencial.
Por isso usei — e uso — camisetas com sua imagem. A mesma imagem que percorre o mundo, que atravessa gerações, que está nas ruas, nos livros… e também nas paredes da minha casa. Não como ícone vazio, mas como lembrete. Um lembrete incômodo, como devem ser os verdadeiros símbolos.
Seu discurso na ONU, em 1964 — curto, duro, direto, encerrado com o definitivo “Pátria ou morte” —, mostra a dimensão do homem que ele era. Não falava para agradar, nem para negociar princípios. Falava como quem sabia que certas verdades não pedem licença. E sua frase talvez mais célebre — “Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás” — sintetiza uma grandeza rara: a capacidade de ser inflexível com a injustiça sem abdicar da humanidade.
A sua história anterior à revolução cubana, magistralmente contada em Diários de Motocicleta, de Walter Salles, ajuda a entender tudo isso. Ali vemos o jovem médico atravessando uma América Latina ferida, desigual, explorada. Não foi Havana que criou Che; foi o continente. A revolução apenas deu forma política a uma indignação que já existia.
Vitorioso em Cuba, Che poderia ter ficado. Poderia ter administrado, discursado, consolidado poder. Preferiu partir. Abriu mão do projeto que ajudara a construir para seguir lutando, consciente dos riscos imensos que isso implicava. Não havia romantismo nisso — havia coerência. Uma coerência que culminou numa morte violenta, precoce, mas que jamais conseguiu ser pequena.
Hoje, olhando o mundo com os olhos de quem já viu promessas se repetirem e frustrações se acumularem, sigo rendendo minha homenagem e minha admiração ao camarada Che. Não como mito congelado no passado, mas como referência viva de que ainda é possível — e necessário — endurecer contra a opressão sem jamais perder a ternura.
E talvez seja isso que mais incomode: Che continua nos lembrando que a neutralidade, quase sempre, é apenas outra forma de conivência.
 Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.
Só Sergipe Notícias de Sergipe levadas a sério.






